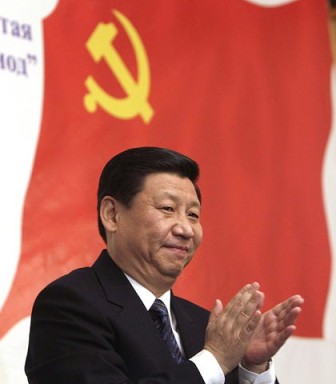Estátua recém-inaugurada de Confúcio na praça da Paz Celestial, em Pequim. Antes execrado por Mao, filósofo vem sendo revalorizado pelo Partido Comunista chinês (AP.11.jan.2011).
Nossos artigos neste blog têm procurado analisar as mudanças ocorridas na China sob o ângulo econômico, social e mesmo geopolítico e também seus impactos na economia mundial e, particularmente, no Brasil.
Desta vez quero dividir com os leitores minhas impressões sobre o modelo político adotado na China, a influência da filosofia confucionista e sua similaridade com modelos usados em outros países em outras situações, inclusive o Brasil.
Muitos chamam o modelo chinês de socialismo de mercado considerando a hegemonia do Partido Comunista e o fato da China ter evoluído a partir de uma economia socialista, de planejamento central e com controle estatal dos meios de produção.
Embora permaneça o sistema de planejamento quinquenal e boa parte das empresas nos setores estratégicos seja estatal, mesmo com a forte atuação do governo chinês no setor financeiro, podemos afirmar que o processo de acumulação capitalista e o mercado exercem hoje um fator muito importante no processo de alocação de recursos na economia chinesa.
A iniciativa privada, por meio de empresas chinesas e estrangeiras tem uma grande participação na economia seja nos setores de consumo, no caso das primeiras, sejan no alto conteúdo tecnológico, no caso das segundas. Pode-se afirmar que, ao longo dos anos, a economia chinesa é cada vez menos regulamentada e cada vez mais se parece com as economias capitalistas tradicionais.
O Partido Comunista permanece como força política hegemônica, mas, apesar disso, a China de hoje pratica muito mais um capitalismo de Estado do que um socialismo de mercado. Pela sua natureza autoritária, de partido único, pela inexistência de um sistema formal de proteção social patrocinado pelo governo e pela elevada disparidade de renda, o modelo chinês não pode ser comparado com o socialismo de mercado que se verifica em países nórdicos como Suécia, Noruega e Dinamarca.
Nesses países, se pratica efetivamente um socialismo de mercado, com uma democracia representativa, com alternância no poder, forte componente de proteção social e baixa disparidade de renda. Esses países utilizam a eficiência do mercado para alocação de recursos e para decidir o que produzir, permitem a acumulação capitalista, mas utilizam a elevada carga tributária para exercer um forte fator redistributivo e moderador das distorções sociais eventualmente causadas pelos mecanismos de mercado.
Esses fatores não estão presentes na China e, embora o modelo chinês tenha características únicas com origem numa formulação econômica marxista e forte presença do Estado em muitas decisões, seu sistema econômico hoje é muito mais parecido ao capitalismo tradicional do que ao socialismo democrático do norte da Europa. A tributação é relativamente baixa se comparada à maioria dos países nórdicos e mesmo a outros países ocidentais, as disparidades sociais são elevadas e o sistema de proteção social praticamente inexiste.
Não obstante o extraordinário crescimento da economia chinesa, a melhoria do nível de vida de sua população e a importância que ela vem atingindo a nível internacional, não resta dúvida que esse modelo ainda deixa muito a desejar em relação ao grau de desenvolvimento social atingido pelas grandes democracias ocidentais ou mesmo em relação aos ideais socialistas que inspiraram a revolução conduzida por Mao Tsé-tung.
Buscando na história exemplos semelhantes ao modelo chinês, vemos algum paralelo em alguns sistemas políticos do início do século passado na Europa, quando regimes autoritários fortes patrocinaram uma forte atuação dos Estados nacionais na definição de suas economias. Embora tendo como ponto de partida uma situação muito diferente daquela verificada na China, esses sistemas também poderiam ser chamados como capitalismo de Estado.
Semelhantes ao comunismo no que diz respeito à prioridade do Estado em relação ao indivíduo, esses sistemas políticos autoritários mantinham a propriedade privada, a economia de mercado, o sistema de acumulação capitalista e também a religiosidade de suas sociedades.
Durante a crise da economia liberal no inicio do século 20, após a Primeira Grande Guerra e no limiar da Grande Depressão de 1929, o sistema econômico e a sociedade europeia enfrentavam dois grandes desafios em razão de sua incapacidade em atender as aspirações da parcela mais pobre dessas sociedades e das distorções naturais acumuladas após quase dois séculos de economia de mercado sob o ideário liberal.
De um lado a ameaça comunista com a proposta de implantação da ditadura do proletariado, eliminação da luta classes, planejamento central, controle pelo Estado dos meios de produção e eliminação da livre iniciativa numa sociedade sem classes sociais e sem crença religiosa.
Do outro lado, a alternativa corporativista com um Estado centralizador, autoritário, onde a livre iniciativa e os indivíduos tinham seu espaço delimitado pelos interesses maiores do estado. O coletivo tem prioridade sobre o individual, as liberdades democráticas são limitadas, mas as forças do mercado, a livre iniciativa e a acumulação capitalista são permitidas desde que subordinadas aos interesses maiores do país. A religiosidade não só era permitida como incentivada.
Muitas economias asiáticas, como Japão, Coreia, Taiwan e Cingapura também tiveram seu crescimento econômico e processo de industrialização inspirados na organização corporativista, embora nesse caso isso tenha origem muito mais na tradição imperial e na cultura confucionista do que como consequência das mazelas da economia liberal. Os valores confucionistas de patriotismo, de ética, de apoio à ordem natural das coisas, de harmonia entre os homens, definição dos papéis de cada um na família e na sociedade, a subordinação dos interesses individuais aos interesses da família e do coletivo têm uma grande aderência doutrinária aos princípios do corporativismo.
Atualmente, esses países exibem maior semelhança com os sistemas políticos e econômicos ocidentais, mas acredito que isso se deu muito mais pela necessidade de inserção comercial do que por vocação desses países. A Ásia, na sua maioria, permanece na sua essência confucionista e corporativista.
O corporativismo é a doutrina da organização dos Estados Nacionais, e as corporações, empresas, associações, sindicatos e instituições nada mais são do que os órgãos que preenchem essas funções.
O corporativismo respondia aos clamores populares decorrentes da crise econômica e também combatia os efeitos da Primeira Grande Guerra, que fortaleceu a presença do Estado nacional e do aparato de segurança contra a ameaça externa e, de certa forma, reduziu a força da sociedade civil, do individualismo e dos princípios liberais. A ameaça da doutrina marxista reforçava o crescimento desses modelos autoritários em que os interesses coletivos e dos Estados nacionais surgiam como uma alternativa menos revolucionária e mantenedora do status quo. Em outras palavras, o corporativismo garantia mudanças sem mudar.
A partir de sociedades democráticas, liberais e capitalistas se desenvolveram governos e regimes autoritários, entre os quais destacamos como centrais o fascismo italiano e o nazismo alemão, e suas derivadas periféricas como o franquismo espanhol, o salazarismo português, o Estado Novo brasileiro, o peronismo argentino e o “Institucionalismo” mexicano. Embora mantendo uma economia de mercado de modelo liberal, essas alternativas políticas tinham nas razões e objetivos de Estado sua fonte de inspiração.
Uma tentativa de eliminação da luta de classes sem eliminação das classes sendo o Estado Nacional o grande mediador dos conflitos e ao mesmo tempo o objetivo final da ação individual. A ação dos indivíduos só tinha legitimidade se atendesse ao interesse nacional e coletivo. O crescimento da presença de sindicatos de trabalhadores, patronais e das empresas estatais na economia mundial, muitas delas permanecendo até hoje, é fruto dessa época da história.
O modelo corporativista tinha um grande apelo popular devido a seu preceito da lei e da ordem sob orientação independente do Estado como árbitro de todos os conflitos e com objetivos nacionais definidos. É dessa época, no Brasil, a origem da expressão “pelego”, nome dado aos representantes sindicais indicados ou cooptados pelo Estado para amainar as reinvindicações dos trabalhadores buscando sempre a composição com as classes empresariais. O pelego é aquela peça de feltro, flanela ou qualquer outro material macio colocado entre o cavalo, no caso a classe operária, e o cavaleiro, no caso o patronato. O Estado corporativista na maioria das vezes é um grande pelego social, tentando amainar os conflitos sociais entre suas diversas classes em nome dos interesses maiores do Estado nacional.
Como não rejeitava a crença e a religião, ao contrário a defendia e também mantinha a propriedade privada, a livre iniciativa e a economia de mercado, o corporativismo teve apoio das duas principais forças sociais dominantes na época, os capitalistas e o clero, cujo maior temor era a ameaça dos ateus bolcheviques.
Sob o manto do interesse nacional e do Estado, proliferaram as grandes corporações sejam dos empresários, das diversas classes sociais, incluindo militares e o aparato repressivo oficial e o clero. Caberia ao aparato do Estado amoldar e alinhar os interesses dessas corporações com os objetivos maiores do Estado. No Estado corporativo, as razões de Estado e o coletivo têm prioridade sobre os interesses específicos dos indivíduos e de cada corporação tomada isoladamente.
No lado oposto, a proposta revolucionária comunista defendia a abolição da propriedade privada e a implantação da ditadura do proletariado com a eliminação da sociedade capitalista e desenvolvimento do ideal socialista de uma sociedade sem classes. Entre as imperfeições da economia liberal de mercado e a ameaça revolucionária do marxismo ateu, o Estado corporativista surgia como uma alternativa de mudança aceitável para boa parte da sociedade e, principalmente, para as forças dominantes da época.
Não se pode dizer que o fascismo e o nazismo ascenderam sem o apoio popular e da sociedade nos países onde foram implantados. Como a história veio a demonstrar de maneira trágica, a escolha popular e da sociedade nem sempre significa a escolha do melhor e dos melhores.
Embora o resultado da Segunda Grande Guerra tenha praticamente eliminado as sociedades corporativistas mais organizadas como o fascismo e o nazismo, elas continuaram a existir de forma não tão explicita em Portugal e Espanha, personificada pelo salazarismo e pelo franquismo.
O clamor democrático despertado pelo final da Segunda Grande Guerra pôs fim ao Estado Novo getulista no Brasil, mas não encerrou com o aparato corporativista que continuou a existir e renasceu em 1964, com a revolução que implantou um regime militar no Brasil, no caso como consequência da incapacidade do sistema democrático liberal existente em fazer frente à ameaça do movimento comunista.
A ditadura militar brasileira que se manteve no poder até 1985 reforçou a tendência corporativista herdada do Estado Novo e implantou um sistema alicerçado numa economia de mercado de natureza capitalista, com forte planejamento central, organizações e instituições como Exército, associações diversas congregando as mais diversas classes da sociedade brasileira.
Com base no binômio Segurança e Desenvolvimento e no tripé de empresas estatais, empresas privadas nacionais e empresas privadas estrangeiras, o modelo de desenvolvimento brasileiro patrocinado por uma ditadura de cunho militar teve muitos paralelos com o sistema econômico vigente na China atualmente.
Ao observar o que ocorre na China desde que o processo de abertura econômica se iniciou em 1978 após a morte de Mao Tse Tung e a ascensão de Deng Xioaping, não deixo de ver certa semelhança com os Estados corporativistas do inicio do século 20. É muito interessante essa constatação, pois, se os Estados corporativistas tiveram sua origem numa tentativa de oferecer alguma alternativa ao avanço da doutrina marxista e foram por muito tempo seus grandes inimigos inclusive lutando a mais sangrenta das guerras contra a União Soviética, não deixa de ser irônico que agora surjam essas semelhanças num regime cuja origem se encontre muito mais à esquerda se comparado ao caráter direitista do fenômeno corporativista.
De certa maneira, podemos ver a mesma tendência nos países da antiga União Soviética, onde o aparato repressivo comunista rapidamente tomou conta do aparelho do Estado e de suas riquezas para benefício de apenas alguns grupos de oligarcas e apaniguados do velho sistema. Esses países se tornaram de certa forma Estados corporativistas com forte presença das empresas estatais e corporações privadas dominadas pelos chamados oligarcas a exemplo das grandes corporações industriais durante o fascismo e o nazismo.
Não obstante a semelhança com os modelos corporativistas do passado, a tradição confucionista e as condições sociais existentes na China conferem ao modelo econômico desse país muito maior credibilidade e aceitação popular do que aquele verificado na antiga União Soviética. A manutenção do planejamento quinquenal que envolve todas as organizações sociais do país confere um sentido de participação e de identidade com relação aos objetivos do Estado chinês.
O prestígio das Forças Armadas perante o povo chinês e a estrutura do partido que permeia todos os campos da sociedade chinesa, como a burocracia do Estado, as empresas, as escolas, universidades e todas outras formas de organização social permitidas, garante um elo de união no tecido social com o objetivo maior de realizar o sonho de um país mais próspero e independente. Aquilo que Hu Jintao denominou de “uma sociedade harmoniosa”.
Mao e os velhos comunistas, muitos dos quais ainda continuam vivos, viam no confucionismo uma forma de exploração e manipulação das massas na China a serviço dos imperadores. As novas lideranças chinesas têm menor ligação com essa origem revolucionária e é possível observar cada vez mais no regime atual o resgate dos valores e dos preceitos confucionistas. De certa maneira, temos na China de hoje e em muitos países asiáticos alguma forma de confucionismo corporativista funcionando por mei de um capitalismo autoritário. O sentido patriótico e nacionalista do confucionismo se torna mais forte que a origem filosófica do Partido Comunista chinês, e o ideal de uma nação forte e independente supera qualquer outra motivação que não seja realizar esse ideal.
Da mesma forma que na Europa do século 20, o corporativismo foi uma forma de mudar sem mudanças, a experiência chinesa por meio deste capitalismo autoritário também é uma forma de mudar sem mudanças radicais. A sociedade se torna mais produtiva e afluente, as pessoas se sentem mais felizes e satisfeitas, mas a hegemonia do partido é mantida, e os objetivos maiores do Estado chinês são preservados. É o pragmatismo da atual elite do Partido Comunista chinês levado ao extremo.
Diferentemente da experiência do Ocidente onde as nações mais democráticas, defensoras de um papel secundário dos estados nacionais e prevalência do individual sobre o coletivo levaram à confrontação e à derrota do sistema corporativista, no Oriente a tradição confucionista e o passado imperial da maioria dos países da região conferem a esse modelo chance muito maior de sucesso e continuidade.
Países onde a tradição confucionista exerce maior influência, como China, Japão, Coreia, Taiwan, Vietnã e aqueles onde a presença marcante da diáspora chinesa como Indonésia, Tailândia, Cingapura, Filipinas, Malásia, entre outros, formam um conjunto que representa quase a metade da população mundial, que muito provavelmente viverá sob sistemas políticos e econômicos semelhantes. À medida que o comércio regional e com a China aumente, é muito provável que a tendência pró-ocidental de algumas dessas sociedades volte a se inclinar para sua tradição cultural, o confucionismo.
Para os defensores da doutrina corporativista do Ocidente, que no limiar da Segunda Grande Guerra acreditavam que o século 20 seria o século do corporativismo originado das falhas do sistema liberal, não deixa de ser irônico o possível triunfo do Estado corporativista confucionista no Oriente, neste caso com sua origem na deficiência e fracasso sistema marxista-leninista, razão maior do surgimento desse tipo de organização no Ocidente.
José Carlos Martins, economista, é diretor de Ferrosos e Estratégia da Vale. Sua coluna é publicada a cada 14 dias, às quartas-feiras